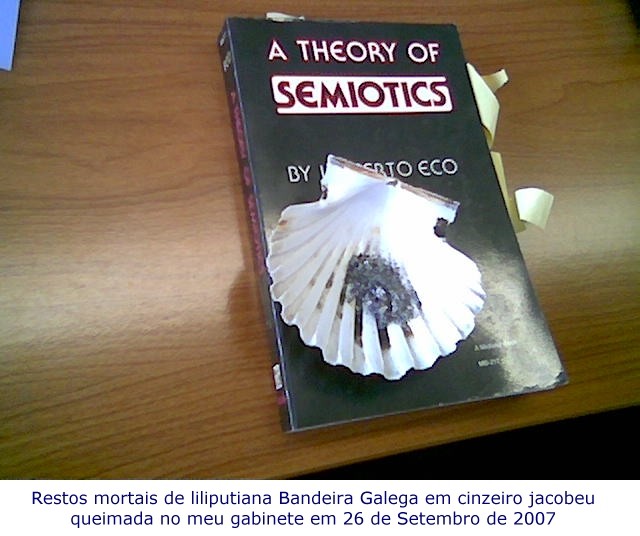Publicado no Portal Galego da Língua
1.
Escreve nalgures a linguista Ruth Wodak que a Propaganda é “discurso desenhado para impedir pensar”. A Propaganda é omnipresente na vida diária. Mas, como se constrói linguisticamente, discursivamente, a Propaganda? Que recursos fornecem as línguas para a Propaganda?
Quisera focar-me num fenómeno pragmático (comunicativo) muito frequente na vida diária e susceptível de uso propagandístico com muita produtividade: a pressuposição. A pressuposição consiste em dar por entendido algum significado, mas “escamoteado” dentro de um enunciado mais amplo. Por exemplo, se eu afirmo “O filme A é mais interessante do que o B”, estou a pressupor que o filme A é, polo menos, algo interessante, que tem a qualidade de ‘interessante’ nalguma medida. Por isso os vendedores nos dizem sempre que um produto caro é “menos económico do que o outro” (tem o atributo de ‘económico’, quer dizer, ‘barato’, nalguma medida), nunca “mais caro do que o outro”.
Um tipo de pressuposição muito frequente é a chamada pressuposição existencial. Com uma pressuposição existencial, dá-se a entender (dá-se por inquestionável) a existência de algo, de uma dada entidade, seja isto assim no mundo real ou não. Por exemplo, se eu afirmo “O meu cão chama-se Trósqui” pressuponho que existe um cão específico e que é da minha propriedade. Reparemos que se nego o dito (“O meu cão não se chama Trósqui”) continuo a pressupor o mesmo: a existência de um cão que é meu. De facto, “O meu cão chama-se Trósqui, mas não tenho cão” é uma contradição, porque eu dei a entender, com outras palavras, que o tinha.
As pressuposições existenciais são activadas polo que se chama uma expressão definida. Uma expressão definida é, por exemplo, a que começa com o artigo “o/a/os/as” (“O meu cão está doente”), ou a que consiste num nome próprio (“Trósqui está doente”).
Portanto, as pressuposições existenciais contribuem para a representação de um mundo… ou para a sua construção. A questão crucial para o receptor de uma pressuposição existencial (o ouvinte) é o que se chama a determinação do referente, quer dizer, o problema da identificação de uma dada entidade do mundo real que se possa corresponder com a entidade pressuposta. A questão é se no mundo real a pressuposição se satisfaz ou não, quer dizer, se na realidade existe ou não essa entidade pressuposta. Eis o que discutirei a seguir.
2.
A propaganda política faz uso do recurso da pressuposição existencial de maneira profusa. De facto, grande parte da construção de uma ideologia consiste na construção de um “mundo” de objectos e realidades pressupostas. Por exemplo, “A política económica do governo” pressupõe que o governo tem política económica (e não um conjunto de actos improvisados). “Os direitos dos trabalhadores” pressupõe que existem tais ‘direitos’, e assim por diante.
De maneira que as pressuposições existenciais contribuem para construir um mundo, polo menos das ideias. Alguns ultraliberais, por exemplo, fazem existir o nazismo na Galiza a referir-se em certos textos jornalísticos ao actual governo bipartido da Galiza BNG-PSOE como “el poder nacional-socialista gallego” como se o governo fosse um todo unitário comparável ao partido alemão NSDAP e como se tivesse a mesma ideologia. A manipulação baseia-se no seguinte: O receptor sabe que existe a Xunta; sabe que está composta por um partido “nacionalista” e por um partido “socialista”; portanto, só pode fazer corresponder a expressão “el poder nacional-socialista gallego” com esta aliança de partidos do mundo real. O poder galego actual não é nazi; mas a Propaganda quer fazê-lo existir, nomeando-o e, assim, condicionar a visão do mundo dos receptores.
Dissemos que um outro tipo de expressão definida que acarreta uma pressuposição existencial é o nome próprio. O jornalista Adam Curtis revela no seu excelente documentário The Power of Nightmares (O Poder dos Pesadelos, BBC, 2004) como “Al-Qaeda” começou a existir em Janeiro de 2001, durante o juízo em EUA contra quatro homens polos bombas colocadas em duas embaixadas EUA em África do Leste em 1998. O governo EUA queria estender também a acusação a Ben Laden, como pretenso líder de um (inexistente) movimento armado internacional. Na realidade, Ben Laden era apenas seguido por um pequeno grupo de fanáticos dentre os milhares de grupúsculos armados que pululavam por Afeganistão. Mas, sob a legislação estadounidense, a acusação a Ben Laden só podia ter lugar se existisse prova de uma vinculação orgânica, quer dizer, de uma organização, como a máfia. Então, uma testemunha protegida do processo, um muçulmano, declarou que ele próprio conhecera Ben Laden e que “Al-Qaeda” era o nome que ele dera à sua organização. Polo poder pressuposicional de nomear, “Al-Qaeda” começou a existir na mente do público. Foi só mais tarde desse mesmo ano, após o massacre do 11 de Setembro, que Ben Laden soube que no nome “Al-Qaeda” representava para os neo-conservadores estadounidenses uma suposta organização da qual ele seria o líder. Na realidade, os ataques do 11-S foram obra de um pequeno grupo, desmantelado e desaparecido, que acudira ao adinheirado Ben Laden para financiamento. Em resumo, precisamente por o nome “Al-Qaeda” ser cunhado, o mundo real passou a se ajustar às palavras, com a criação de um poderoso inimigo, algo que politicamente era necessário para o neo-conservadurismo ocidental após a queda do “império do Mal” soviético. Assim, a palavra dos representantes do povo elegido (EUA) criou, pressuposicionalmente, “Al-Qaeda”. Na verdade, não longe disto está o poder performativo (criativo) da palavra de Deus na cosmogonia cristã: “E Deus disse: Faça-se a Luz; e a Luz fez-se”.
3.
É polo mesmo procedimento que se fazem existir também realidades como “O terrorismo islamista”. Com efeito, um tipo muito frequente de expressão que contém uma pressuposição existencial propagandística é ARTIGO + NOME + ADJECTIVO, do tipo “O terror-ismo islam-ista”, “O separat-ismo comun-ista”, etc., onde duas práticas ou ideologias políticas convergem numa. Reparemos, por exemplo, em
“O terrorismo islamista”.
A expressão, à margem do enunciado onde estiver contida (p. ex. “O ataque foi obra do terrorismo islamista”, ou “O ataque não foi obra do terrorismo islamista”) dá a entender a existência de uma prática política de terror que, além, é ‘islamista’, seja isto o que for. De facto, aqui há duas informações contidas numa: ‘(1) Existe o terrorismo; e (2) um atributo deste terrorismo que existe é ser islamista’.
Este procedimento retórico liga fortemente o islamismo em geral ao terrorismo. Como é assim? Porque, por uma parte, sabemos que no mundo existe também o não-terrorismo; mas a expressão não deixa a porta aberta a que existam islamistas que não sejam terroristas. O terrorismo é o conjunto maior.
Por contraste, a expressão alternativa
“O islamismo terrorista”
pressupõe algo notavelmente distinto: por uma parte, pressupõe que existe um tipo de islamismo que é terrorista; mas, a utilizar um adjectivo restritivo, deixa margem para pensar que não todo o islamismo é terrorista.
Destas duas expressões, a que melhor se ajusta ao estado do mundo actual é, obviamente, a segunda, pois não todas as pessoas “islamistas” são “terroristas”. Porém, parece claro que a propaganda política utiliza quase exclusivamente a primeira: ela faz existir antes o terrorismo do que o islamismo. Da mesma maneira, fala-se de “O terrorismo independentista” (‘um tipo de terrorismo que é independentista’), não tanto de “O independentismo terrorista” (‘um tipo de independentismo que é terrorista’, frente a outro que não é).
Ora bem, à hora de interpretar a expressão “O terrorismo islamista” e de lhe destinar um referente, a questão que o público receptor deve resolver é: Quem compõe esse grupo de terroristas que são islamistas? A evidência da experiência é que existe ‘o terror’. Outra evidência é que os islamistas são conhecidos no mundo cristão apenas quando existe o terror que alguns deles levam a cabo, e sempre em referência a ele. Portanto, a inferência a que convida esta manipulação de sentidos e de referentes é que ‘Todos os islamistas (que são os indivíduos que conhecemos quando há terror) são terroristas’, de maneira que “islamista” (como “independentista”) é um subconjunto do superconjunto que define tudo: “O Terrorismo”. Em resumo, emitir “O terrorismo islamista” implicita que ser islamista é apenas uma das possíveis manifestações de praticar o Terrorismo.
4.
Imaginemos, para continuar com a explicação do funcionamento da Propaganda, que na Galiza alguém utilizasse por escrito a expressão
“O fundamentalismo lusista”
A pressuposição aí contida dá por feita a existência de alguma (pretensa) realidade nossa. De novo, não nos interessa a oração completa em que se emitisse: tanto “O fundamentalismo lusista está a crescer” quanto “O fundamentalismo lusista não está a crescer” dariam por suposta a existência, no mundo real, (1) de uma posição ou prática social etiquetada como ‘o fundamentalismo’, e (2) de que uma manifestação desta posição social tem o atributo de ‘lusista’. (Evidentemente, ainda não sabemos o que significa “fundamentalismo” e, menos ainda, “lusista”; mas disso ocuparemo-nos depois).
Como no exemplo anterior, o subconjunto “lusista” fica portanto ligado a outros tipos dentro do superconjunto “Fundamentalismo”, tais como “O fundamentalismo islamista”, “O fundamentalismo nacionalista” ou o “O fundamentalismo independentista”. De novo, também, o elemento definidor é o substantivo: a expressão pressuposicional faz existir primeiramente o fundamentalismo, que apenas se manifesta em variantes ideológicas como ‘islamista, nacionalista, independentista, lusista’, etc. Como no caso de “O terrorismo islamista/independentista”, etc., a ideologia específica (política ou linguística) fica subordinada à construção abstracta de uma prática social, que organizaria a realidade.
De novo, como na discussão anterior, contrastemos o exemplo com a hipotética expressão também pressuposicional
“O lusismo fundamentalista”
Esta expressão pressupõe algo sem dúvida diferente: que, dentro do lusismo, existe uma tendência ou prática fundamentalista. Dá-se por suposta a existência de polo menos alguma manifestação “fundamentalista” dentro do lusismo; mas sugere-se, por contraste, a existência de um lusismo “não fundamentalista” (se eu afirmo A, estou a implicitar que existe um não-A, que posso chamar B; só um Pan-Deus escaparia a esta hidráulica).
Mas ocupemo-nos só do efeito propagandístico da expressão primeira, “O fundamentalismo lusista”. A questão, mais uma vez, é, como se adeqúa esta representação ao mundo real? Que faz o leitor da Galiza perante uma pressuposição assim?
Deixo de parte, evidentemente, o que possa significar “fundamentalismo” para alguém que utilizasse tais palavras. Nem sei, nem saberia, se esse significado não se fizesse explícito. Mas sim que sei que, na fala comum, o fundamentalismo ou integrismo está sem dúvida associado a valores negativos como fanatismo, intransigência, dogmatismo, e, por extensão, agressividade verbal e física. De facto, na discurso político propagandístico contemporâneo a ligação entre “fundamentalismo” e “terrorismo” é muito forte. Um fundamentalista é aquela pessoa que não vê sentido em discutir o significado imanente de um texto de autoridade (um código religioso, um ideário político, uma proposta normativa), pois a Palavra está por cima de qualquer debate. Um fundamentalista islamista nunca debateria, por exemplo, o próprio alvo do Islã ou o sentido do Corão. Portanto, para a consecução da sua causa, dada a inutilidade do debate, a violência pode chegar a ser um meio legítimo e até necessário. (O documentário O Poder dos Pesadelos relata como na década de 1900 o fundamentalismo fanático de alguns grupos armados islamistas foi tal que começaram a matar-se entre eles por ‘infiéis’ e traidores ao Corão: assim, o objectivo deixou de ser a salvação do mundo islâmico da corrupção ocidental, e o próprio movimento debilitou-se. Curiosamente, é precisamente aí quando uma outra Palavra, a dos ideólogos neoconservadores estadounidenses, fez nascer “Al-Qaeda”).
Em resumo: a expressão “O fundamentalismo lusista” nega a existência do lusismo fora da prática fanática fundamentalista. Por essência, o lusismo é representado apenas como um tipo de fanatismo agressivo. Como no caso anterior, diz-se sem dizer que ser lusista é apenas das manifestações de praticar o Fundamentalismo.
5.
Mas, o que acontece com a determinação do referente? Que universo de sujeitos pode constituir, no mundo real, aquele pressuposto em “O fundamentalismo lusista”? Quer dizer: que facção possível dentro do Fundamentalismo, como categoria superior, é do tipo ‘lusista’?
Consideremos, primeiro, a evidência de que existem na Galiza numerosas pessoas que, de alguma maneira ou outra, se identificam, ou identificam outras, com o ‘lusismo’ ou como ‘lusistas’. Não é a minha intenção caracterizar aqui o lusismo: a identificação ou auto-identificação pode ter a base da prática linguística (padrão escrito e/ou oral português), da aproximação cultural e linguística a Portugal ou ao resto do mundo lusófono em geral, das duas cousas, ou de outros elementos. O facto é que esta identificação de pessoas com o ‘lusismo’ existe, em clara oposição ao ‘isolacionismo’, e, às vezes, ao ‘reintegracionismo’.
A experiência é um poderoso recurso que qualquer humano tem para entender os signos. Portanto, se uma pessoa se auto-identifica como lusista, ou identifica outras como lusistas, ou entende que ela própria ou outras possam ser identificadas desde fora como “lusistas” (embora ela mesma se defina, por exemplo, como “reintegracionista”), e se ao mesmo tempo não acha por qualquer parte essas práticas próprias ou alheias “fundamentalistas” dentro do lusismo, ou mesmo se, na sua própria percepção, considera que a etiqueta “fundamentalista” só poderia ser aplicada, por metaforização, a certas palavras ou textos de toda uma história de lusismo neste país, então talvez esta pessoa só possa interpretar a expressão “O fundamentalismo lusista” como uma tentativa de Propaganda manipuladora (discurso desenhado para impedir pensar), e até como uma tentativa de insulto a todo um colectivo.
Além, igual que com “O terrorismo islamista”, esta propaganda tem a intenção de polarizar (“nós” frente a “eles”), numa visão dicotómica do mundo que só contribui para a manutenção da tensão. Por definição, a propaganda simplifica e generaliza as identidades “própria” e “alheia” para causar polarização e conflito. E amiúde, os sujeitos-alvo da propaganda política (os muçulmanos, por exemplo) sentem-se insultados não porque acreditem que os propagandistas cristãos tenham poder real para insultá-los, mas porque os cristãos, a procurarem inocular uma representação errada do mundo, estão a manifestar uma flagrante arrogância. Da mesma maneira, classificar todo o colectivo do “lusismo” como “fundamentalista” é sintoma de arrogância polo que tem de tentativa de imposição de uma dada representação do mundo.
Com efeito, para aqueles galegos que carecem de experiência mais directa com pessoas lusógrafas ou que defendem a unidade linguística, a manipuladora expressão convida a conceber toda a prática lusógrafa (‘escrever em português na Galiza’) como “fundamentalista”. A manipulação retórica consiste na construção de uma pretensa realidade, cuja existência é, precisamente, a que está em questão, mas que não se explica nem explicita a meio do debate. (Como também acontece com o ubíquo lema, sempre inexplicado, do que constitui “O terrorismo islamista”, de quem são esses terroristas, onde estão, e como agem: na campanha contra o financiamento ilegal do “terrorismo islamista” em Espanha depois da tragédia de 11 de Março de 2004, os serviços policiais espanhóis só foram capazes de intervir uns 80 euros destinados a este financiamento).
Mas a manipulação propagandística de “O fundamentalismo lusista” não fica aí. Para muitos galegos, “lusista” é termo geral para o que outros chamam “reintegracionista”, quer dizer: ‘Tudo quanto não seja a visão da RAG do galego; os da AGAL; umas pessoas que escrevem raro e dizem -çom’. Para estes galegos, toda a prática da AGAL, do MDL, da AAG-P e de outras associações, colectivos e pessoas é o mesmo: é não-galego. Na Galiza, só existiria o “galego oficial” e o “lusismo”. Portanto, para estas pessoas é possível que o lema “O fundamentalismo lusista” signifique simplesmente ‘Todos quantos não concordarem com a norma actual para o galego, isto é, desde os que escrevem cousas raras como -çom até os que escrevem em português padrão, são uma minoria fundamentalista, fanática e agressiva’.
Por isso, não andarei descaminhado se digo que o lema “O fundamentalismo lusista” encaixa perfeitamente, por exemplo, com a associação que a propaganda mediática e política faz entre o reintegracionismo e a violência (pseudo)-política que esporadicamente experimenta este país (a não policial, refiro-me). Porque todos sabemos que os que cometem esses actos violentos são “lusistas”. Nesse sentido, o lema “O fundamentalismo lusista”, por associação de significados, inclusive reforça o papel da propaganda de Estado sobre as íntimas ligações entre reintegracionismo (=”lusismo”) e “terrorismo separatista” na Galiza: é fundamentalista, fanático, dogmático, e esconde-se nas covas de Tora Bora dos locais sociais, das organizações minúsculas e sectárias, das publicações minoritárias, dos actos culturais desérticos, da palavra arcana. O “fundamentalismo lusista” tem os seus líderes clandestinos, organizados numa detalhada hierarquia militar, e cada vez mais massas ignorantes são educadas nesse fanatismo nos campos de treinamento consentidos dos foros do PGL ou de Vieiros, o novo Afeganistão.
6.
Em conclusão, estes são só alguns dos significados ideológicos da expressão “O fundamentalismo lusista”. No fundo e na forma, a expressão, se utilizada num texto público, é um ataque directo ao projecto reintegracionista de unidade da língua da Galiza, Portugal, o Brasil e outros países. A expressão é um ataque não só aos “lusistas” (sejam estes quem forem), mas ao pensamento e ao debate sério sobre a unidade linguística. É um ataque ao que representa ou deveria representar, por exemplo, este Portal Galego da Língua. Dificilmente uma expressão tal poderá ser nunca interpretada como um fragmento de diálogo sobre a questão da língua na Galiza.
Por fim, se se me permite uma metáfora inevitavelmente derivada do próprio contexto discursivo donde surge o ideologema que discuto, escrever “O fundamentalismo lusista” num contexto público formal é apenas uma explosiva manobra discursiva de fragmentação. É uma tentativa de fragmentação de um campo que, sem dúvida, manifesta dissensões internas, mas que também está unido socialmente por práticas e experiências comuns frente a outro campo social. Dizer “O fundamentalismo lusista” é uma tentativa de fragmentação de um campo social onde a gente se define de maneiras diversas, até variáveis, raramente imanentes, e onde os significados das etiquetas fundantes “lusista” e “reintegracionista”, ou de “luso-reintegracionista” ou “lusógrafo”, continuam sujeitos a negociação após muitos anos. O uso da expressão, a tentativa de fazer existir uma indefinida realidade tal na sociedade galega, é também uma tentativa de forçar o auto-posicionamento dentro do campo pretensamente representado (de “interpelação”, que diria Althusser), de divisão, de construção de minorias e facções dentro das minorias e facções: é uma tentativa de forçar a internalização de dicotomias classificatórias (“fundamentalista/não fundamentalista”, “lusista/não lusista”), num processo ad infinitum comparável em procedimento à exaustiva classificação que os discursos totalitários impõem sobre os sujeitos inferiores (a detalhada racialização da população no nazismo, por exemplo).
Evidentemente, não é desejo meu que tudo isto seja assim: nenhuma pessoa interessada em compreender a situação da língua na Galiza deveria utilizar nunca uma expressão como “O fundamentalismo lusista” para argumentar qualquer cousa séria sobre o “lusismo” ou contra ele. Mas tudo o exposto é o que o meu (limitado) conhecimento dos recursos pragmáticos da língua me diz sobre como se constrói retoricamente a Propaganda e até o insulto.